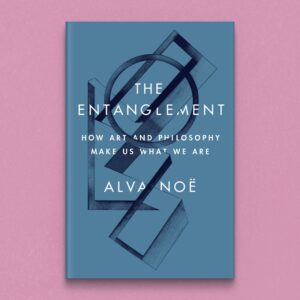O museu, ao longo da história, foi descrito e interpretado por pensadores, críticos, artistas e curadores como muito mais que um simples espaço de exposição. Nas palavras reunidas por Carol Duncan em O Museu de Arte como Ritual, surgem definições que o aproximam de templos, palcos e santuários, revelando sua dimensão liminar, simbólica e transformadora. De Goethe a Svetlana Alpers, passando por William Hazlitt, Kenneth Clark e Germain Bazin, essas vozes ajudam a entender como o museu constrói experiências comparáveis a rituais, momentos de suspensão do tempo, contemplação e comunhão com a arte.
William Ewart (1853)
“Você não pensa que numa galeria excelente… todas as partes circundantes e adjacentes do prédio deveriam… ter alguma referência às artes… com fontes, estátuas, e outros objetos de interesse calculados para preparar a mente dos visitantes antes de entrarem no prédio, e levá-los a apreciar melhor os obras de arte que eles verão em seguida?”
Ewart reconhece explicitamente a função preparatória e cerimonial do espaço do museu. Para ele, a experiência começa antes de entrar. O caminho, a arquitetura e os elementos decorativos têm a missão de retirar o visitante da vida cotidiana e colocá-lo em um estado de atenção especial, semelhante ao prólogo de um ritual religioso.
Mary Douglas (1966)
“O ritual fornece o enquadramento. O tempo e o espaço diferenciados alertam para um tipo especial de expectativa, assim como o tão repetido ‘Era uma vez’ cria um estado receptivo para contos fantásticos.”
Douglas oferece uma definição estrutural do ritual que Duncan aplica ao museu: delimitar tempo e espaço cria uma expectativa particular. No museu, isso significa moldar o comportamento e a percepção dos visitantes, estabelecendo um “modo de recepção” diferente do cotidiano.
Victor Turner (1977)
Liminalidade é um modo de consciência “entremeado com os estados normais do dia-a-dia e os processos de ganho e perda”.
Turner fornece o conceito-chave de liminaridade, uma suspensão temporária das regras e preocupações cotidianas. Para Duncan, visitar o museu é entrar nessa zona liminar, onde o visitante pode refletir sobre si e sobre o mundo, livre das pressões imediatas.
Germain Bazin (1967)
“Um museu de arte é um templo onde o Tempo parece suspenso”; o visitante entra com esperança de encontrar uma daquelas “epifanias culturais momentâneas” que dão a ele “a ilusão de conhecer intuitivamente sua essência e suas forças.”
Bazin reforça a analogia do museu com o templo, destacando a suspensão do tempo e a promessa de revelação, como traços centrais do caráter ritualístico da instituição.
Goran Schildt (1988)
Os museus são lugares nos quais buscamos um estado de contemplação “deslocada, fora do tempo e exaltada” que “nos garanta um tipo de descanso das lutas da vida e… do cativeiro de nosso ego.”
Referindo-se à atitude do século XIX diante da arte: “um elemento religioso, um substituto da religião.”Schildt enfatiza o museu como espaço de escapismo contemplativo, quase religioso. Ele sugere que, no século XIX, a visita ao museu substituiu práticas espirituais, oferecendo uma forma secular de transcendência.
Philip Rhys Adams (1954)
“O museu é na verdade o empresário, ou mais estritamente um régisseur, nem ator nem público, mas o intermediário que controla quem entra em cena, induz um estado de espírito receptivo no espectador, então convida os atores a tomar conta do palco e dar o melhor das suas personagens. E os objetos de arte têm também suas saídas e entradas; movimento (o movimento do visitante enquanto ele entra no museu e enquanto ele vai ou é conduzido de objeto para objeto) é um elemento presente em qualquer instalação.”
Adams compara o museu a um palco teatral, onde o visitante desempenha o papel principal e o museu organiza a narrativa visual. Essa ideia conecta-se ao conceito de “roteiro ritual” proposto por Duncan.
Sir Kenneth Clark (1954)
“A única razão de colocar juntos obras de arte em um local público é que… elas produzem em nós um tipo de felicidade exaltada. Por um momento há uma clareira na floresta: nós seguimos revigorados, com nossa capacidade para a vida aumentada e com alguma memória do céu.”
Clark associa a experiência do museu a uma revelação espiritual e restauradora, similar à promessa de salvação nos rituais religiosos, algo que Duncan identifica como parte do discurso legitimador dos museus.
Johann Wolfgang von Goethe (1768)
“Chegou a hora da abertura, impacientemente esperada, e minha admiração excedeu todas as minhas expectativas. O salão se oferecia, magnífico e tão bem cuidado, as frescas molduras douradas, o piso bem encerado, o profundo silêncio reinante, criando uma impressão única e solene, parecida com a emoção experimentada quando se entra na Casa de Deus, e ela se aprofundou à medida que se olhava para os ornamentos em exibição que, tanto quanto o templo que as abrigava, eram objetos de adoração naquele espaço consagrado para os divinos fins da arte.”
Goethe descreve o museu com a mesma reverência de um espaço sagrado, reforçando a equivalência simbólica entre museu e templo que perpassa o texto de Duncan.
Wilhelm Wackenroder (1797)
A contemplação da arte nos remove do “fluxo vulgar da vida” e produz um efeito “comparável, mas ainda melhor, ao êxtase religioso.”
Wackenroder introduz a ideia de que o museu proporciona uma experiência estética superior até mesmo à religiosa, um argumento que fortalece a noção de culto secular à arte.
William Hazlitt (1816)
“A Arte levantou sua cabeça e sentou-se em seu trono, e disse, todos os olhos devem ver-me, e todos os joelhos devem se dobrar para mim… Ali ela havia reunido toda a sua pompa, ali estava seu santuário, e ali seus devotos vieram e a adoraram como em um templo!”
Hazlitt dramatiza a experiência museal, retratando a arte como soberana espiritual e o museu como um templo de adoração.
William Hazlitt (1824)
“Esta é a cura (pelo menos enquanto dura o momento) dos cuidados irrefletidos e das paixões desconfortáveis. Nós somos abstraídos para uma outra esfera: respiramos um ar celestial; entramos dentro da mente de Rafael, de Ticiano, de Poussin, de Caraccci, e olhamos a natureza com seus olhos; vivemos um tempo passado, e parecemos nos identificar com a forma perpétua das coisas. Os negócios do mundo de uma maneira geral, e mesmo seus prazeres, aparecem como vaidade e impertinência. Que sentido têm a algazarra, o cenário cambiante, as marionetes, a tolice, a moda ociosa lá fora, quando comparadas à solidão, o silêncio, as vistas expressivas, as perenes formas aqui dentro? Aqui está a verdadeira casa da mente. A contemplação da verdade e da beleza é o objeto apropriado para o qual fomos criados, que clama pelos mais intensos desejos da alma, e do qual nunca nos cansamos.”
Hazlitt explicita a função terapêutica e transformadora da visita ao museu, uma “cura” temporária das aflições da vida, conceito alinhado à função regeneradora dos rituais.
Benjamin Ives Gilman (1918)
O espectador “deve pôr a si próprio diante da imagem do artista, penetrar sua intenção, pensar com seus pensamentos, sentir seus sentimentos.”
“A Arte é a Mensagem Graciosa pura e simples, essencial para a vida perfeita,” e sua contemplação é “um dos fins da existência.”Gilman propõe uma comunhão estética entre visitante e artista, atribuindo à arte um papel quase soteriológico, de “graça” para a vida, claramente uma transposição secular de valores religiosos.
Svetlana Alpers (1988)
“Capitéis Românicos ou retábulos renascentistas são apropriadamente admirados em museus (pace Malraux) mesmo que não tendo sido feitos para eles. Quando objetos como estes são retirados do espaço ritual, o convite de olhá-los atentamente permanece e em certo sentido pode até ser acentuado.”
Alpers sugere que, mesmo retirados de seu contexto original, os objetos no museu mantêm ou intensificam seu potencial ritual, aqui entendido como convite à contemplação.
Germain Bazin (1967)
“Estátuas devem estar isoladas no espaço, pinturas penduradas bem distanciadas, uma jóia cintilante colocada contra veludo negro e diretamente iluminada: em princípio, apenas um objeto deve aparecer no campo visual por vez. O sentido iconográfico, harmonia global, aspectos que atraíram o amador no século dezenove, não mais interessam ao frequentador contemporâneo do museu, que é obcecado pela forma e habilidade; o olho deve ser capaz de percorrer lentamente a superfície inteira de uma pintura. A arte de olhar se torna um tipo de transe unindo o espectador e a obra-prima.”
Bazin descreve a instalação museal moderna como indutora de transe, isolando a obra para criar um momento de conexão intensa e atemporal entre visitante e objeto.