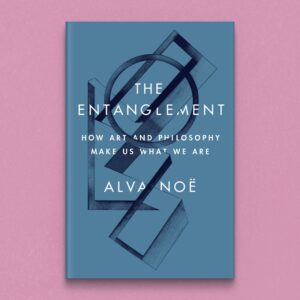A trajetória da videoarte no Brasil é marcada por uma tensão constante entre experimentalismo e institucionalização, entre crítica política e apagamentos históricos. Desde os primeiros experimentos com vídeo nas décadas de 1970 até as práticas contemporâneas atravessadas por questões de raça, gênero e território, a videoarte brasileira se configura como um campo de disputa simbólica, estético-política e poética.
A entrada do vídeo como meio artístico no Brasil acontece em um contexto de forte repressão política: os anos de chumbo da ditadura militar. Influenciados por movimentos internacionais, como o Fluxus e a arte conceitual, artistas brasileiros passaram a utilizar o vídeo não apenas como ferramenta de registro, mas como estratégia de criação crítica.
A videoarte no Brasil teve início em 1974, quando o diplomata Jom Tob Azulay emprestou um portapak a artistas brasileiros convidados para uma mostra na Filadélfia. Esse episódio é um marco simbólico da entrada do vídeo como meio artístico no país. Diferente do cinema e da televisão, que são linguagens dominadas por narrativas lineares e instituições poderosas, o vídeo oferecia aos artistas autonomia técnica, baixo custo e a possibilidade de experimentação com o tempo, o corpo e a imagem. Era uma linguagem ideal para criar fissuras no controle da informação e no discurso dominante.
As pioneiras: mulheres e vídeo como gesto político
Em 1976, o MAC-USP, sob direção de Walter Zanini, adquire um portapak e o disponibiliza a artistas paulistanos. Isso impulsiona uma produção inicial centrada na experimentação e no gesto performático, tornando o museu um polo fundamental da difusão da videoarte no Brasil.
Dentre os nomes fundamentais da videoarte no Brasil, destacam-se artistas mulheres que atuaram de forma contundente no início dos anos 1970, como Letícia Parente, com obras como Marca Registrada, em que borda “Made in Brazil” na sola do próprio pé, Sônia Andrade, que explora a autoagressão como metáfora artística, Regina Vater e Anna Bella Geiger. Elas inseriram o vídeo em práticas performáticas, utilizando o corpo como superfície crítica para debater autoritarismo, domesticidade, identidade e silenciamento.
As obras desse período são de extrema força simbólica. Em Marca Registrada (1975), por exemplo, Letícia Parente borda a inscrição “MADE IN BRASIL” na sola de seu pé, em uma metáfora brutal sobre o corpo como território colonizado. Ao mesmo tempo, há uma recusa ao fetichismo da imagem televisiva e um movimento a favor de uma estética crua, direta, por vezes incômoda.
Anos 1980: o vídeo na contramão da televisão
Durante os anos 1980, com o fim progressivo da ditadura e o início da redemocratização, a videoarte começa a expandir seus meios e espaços de circulação. A linguagem televisiva passa a ser apropriada, criticada e subvertida. Grupos como o TVDO (Televisão de Dogma) e artistas como Carlos Nader e Eder Santos inserem o vídeo no território da música, do cinema expandido, da instalação e da experimentação sonora.
Os anos 80 testemunham o surgimento de festivais importantes, como o Videobrasil (São Paulo) e o FórumBHZVídeo (Belo Horizonte), que consolidam o vídeo como linguagem artística e espaço crítico de denúncia social.
É também o momento em que o vídeo começa a ganhar espaço nos museus, galerias e festivais, ainda que de forma marginal. As questões técnicas (conservação, exibição, obsolescência dos suportes) se somam a uma certa resistência institucional em reconhecer o vídeo como forma legítima de arte.
Da inserção ao apagamento: o problema da institucionalização
Apesar da ampliação do reconhecimento da videoarte como linguagem artística nas décadas seguintes, a história da videoarte no Brasil ainda é marcada por lacunas e apagamentos. Muitas das experiências realizadas nos anos 1970 e 1980 por mulheres, artistas negros, artistas do Nordeste e coletivos experimentais não foram devidamente documentadas ou integradas aos acervos institucionais.
Esse esquecimento não é casual. Como aponta Thamara Venancio, existe uma tendência hegemônica de legitimar certos nomes e narrativas em detrimento de outras, reforçando padrões de centralidade geográfica (eixo Rio-São Paulo), gênero e racialidade. A crítica institucional torna-se, assim, uma camada inseparável da própria história da videoarte no Brasil.
A partir dos anos 90, há um retorno a trabalhos mais autorais, de tom menos militante, com artistas como. Esse período também se caracteriza por uma internacionalização da linguagem, um afrouxamento das temáticas locais e maior contato com o circuito internacional.
Videoarte contemporânea: reexistência e multiplicidade
A institucionalização da videoarte se fortalece com mostras e exposições dedicadas ao tema, como Made in Brasil, curada por Arlindo Machado, e Emoção Artificial, sobre arte e mídias digitais. Nos anos 2000, a videoarte brasileira se expande para novos suportes e mídias híbridas com artistas como Lucas Bambozzi explora o cotidiano urbano em videoinstalações e projetos interativos; Lia Chaia, que atua entre vídeo e performance; Otavio Donasci desenvolve performances com “máscaras eletrônicas”; e Coletivos como o grupo SCIArts e artistas como Tânia Fraga e Anna Barros integram vídeo, computação gráfica e imersividade sensorial.
A partir dos anos 2000, com a popularização do digital e da internet, a videoarte se transforma novamente. As fronteiras entre vídeo, cinema, performance e instalação se dissolvem. As imagens deixam de depender do museu e circulam também em redes sociais, plataformas abertas, celulares e circuitos independentes.
Hoje, artistas indígenas, negros, LGBTQIAPN+, periféricos e do interior do país estão propondo novas formas de vídeo. São narrativas que cruzam o documentário, o rito, o afeto, a denúncia e a fabulação. A imagem em movimento torna-se lugar de reexistência. Nesse contexto, a videoarte no Brasil é também um campo de afirmação política e epistemológica, que exige o reconhecimento da pluralidade de corpos, territórios e temporalidades que compõem sua trajetória.