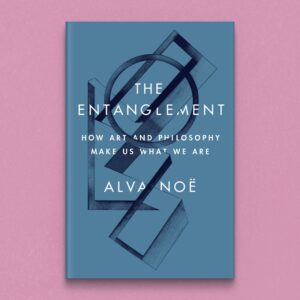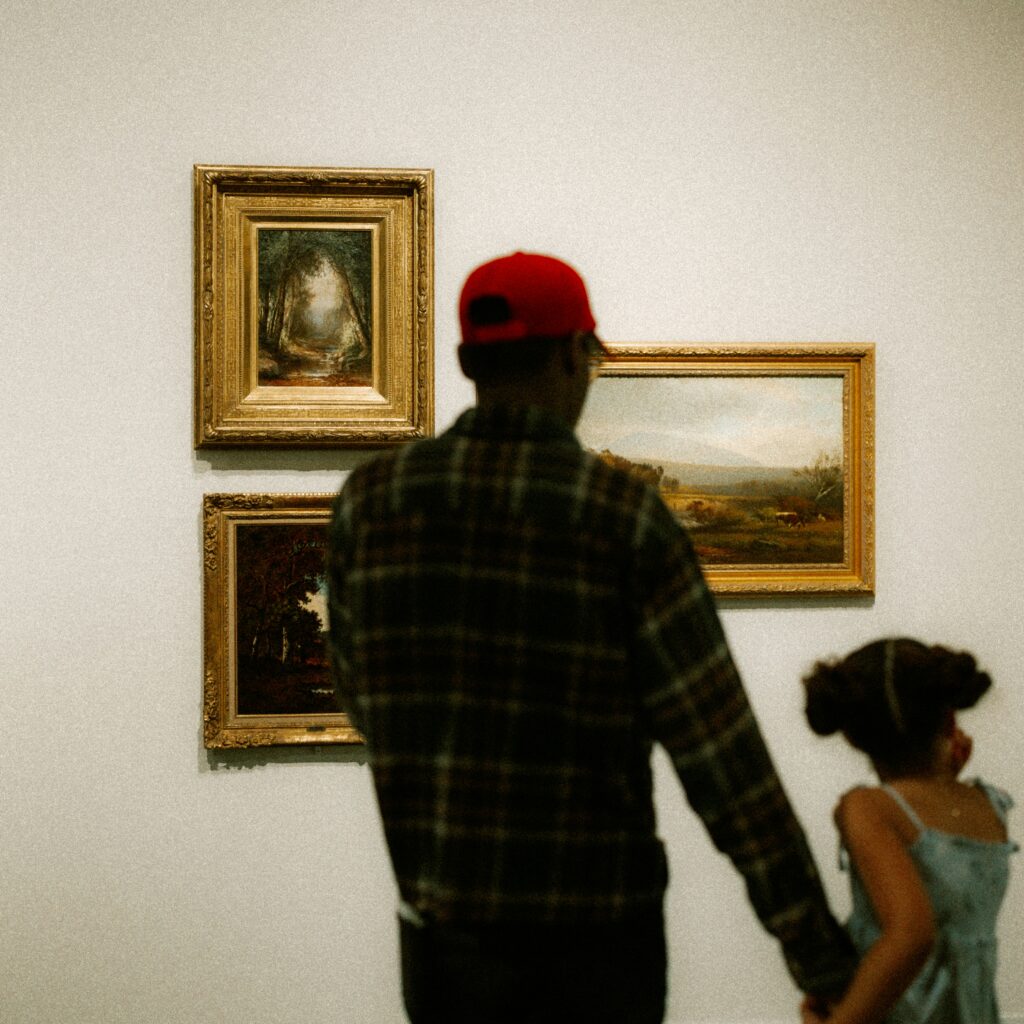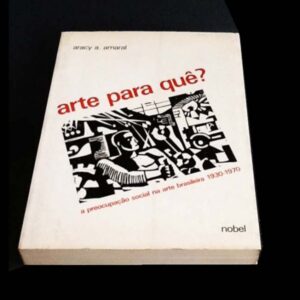Interseccionalidade (Boitempo, 2022) é um exercício contínuo de escuta, análise e ação. A autora, Patricia Hill Collins, socióloga norte-americana e referência internacional nos estudos de raça, gênero e classe, parte do reconhecimento de que o termo “interseccionalidade” ganhou grande circulação global. No entanto, ela alerta desde as primeiras páginas para os riscos de seu uso superficial ou apolítico: “A interseccionalidade corre o risco de se tornar um eslogan vazio, se sua capacidade crítica não for preservada”.
É a partir dessa preocupação que Collins estrutura seu livro: como uma defesa e um reencantamento da interseccionalidade como ferramenta analítica, prática política e ética relacional.
Parte I: O que é interseccionalidade?
Na primeira parte do livro, Collins apresenta a interseccionalidade como uma lente de análise crítica que rejeita abordagens unidimensionais das opressões sociais. Em vez de separar os eixos de desigualdade (como raça, gênero, classe, sexualidade), a autora propõe pensar essas categorias como entrelaçadas, “mutuamente constituídas” e indissociáveis.
Ela lembra que o termo emergiu nos anos 1980 e 1990, vinculado à luta das mulheres negras, especialmente nos EUA. E cita nomes como Kimberlé Crenshaw e Angela Davis como vozes que ajudaram a moldar essa perspectiva. Mas também insiste que a interseccionalidade não surgiu apenas nos livros: é resultado da experiência social e do ativismo coletivo.
“Pessoas negras, mulheres, indígenas, LGBTQIAP+, pobres – todas essas populações experimentam opressões múltiplas e, por isso, já vivem de maneira interseccional. O que fazemos na teoria é tentar escutar essa realidade e traduzi-la em ferramentas analíticas”.
Parte II: Como pensar com interseccionalidade?
O centro do livro está no aprofundamento da interseccionalidade como projeto teórico e político. Collins evita oferecer um “modelo fechado” ou uma receita pronta. Em vez disso, propõe seis dimensões analíticas (como estrutura, escala, processos e práticas) que podem ser mobilizadas de forma situada. Cada capítulo aprofunda uma dessas dimensões.
O que emerge aqui é a ideia de que a interseccionalidade não é um substantivo, mas um verbo: pensar interseccionalmente é se mover, cruzar, escutar, rever. É um “modo de conhecimento que convida ao diálogo, à contradição e à transformação”.
Collins também propõe que a interseccionalidade seja pensada em três escalas: pessoal, institucional e simbólica. Assim, é possível analisar tanto uma política pública quanto uma prática artística, uma peça publicitária ou uma vivência subjetiva. “As ideias importam, mas a forma como elas são usadas nas práticas sociais e políticas é o que determina sua potência transformadora”.
Parte III: Para que serve a interseccionalidade?
Na parte final do livro, Collins propõe uma visão propositiva: usar a interseccionalidade como instrumento para a justiça social. Ela aborda temas como alianças políticas, responsabilidade coletiva e ação interseccional no cotidiano. Neste ponto, ela retorna à metáfora da interseccionalidade como um “projeto em movimento”, que exige atitude ética e atenção constante às relações de poder. Isso significa estar disposto a revisar posições, escutar os silenciados e atuar com abertura à pluralidade.
Um método que recusa a neutralidade
A autora rejeita explicitamente a ideia de neutralidade acadêmica. Ao longo do livro, ela se posiciona como intelectual comprometida com os saberes marginalizados e com a transformação social. Isso se reflete na linguagem do livro (clara, direta, relacional) e no modo como os exemplos são escolhidos: do movimento negro nos EUA à luta de mulheres camponesas no sul global.