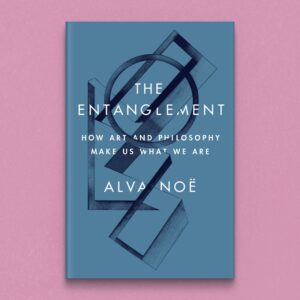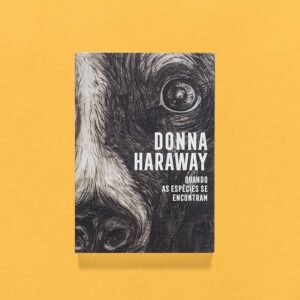Ao se debruçar sobre a história da arte acadêmica no Brasil, é fundamental reconhecer que seu desenvolvimento não foi apenas pautado por normas estilísticas ou instituições oficiais, mas também por exclusões sistemáticas, em especial, de questões de insterseccionalidade – gênero, raça e classe. A análise da presença (e ausência) das mulheres nos espaços acadêmicos revela dimensões sociais, políticas e simbólicas que marcaram profundamente a constituição do sistema artístico brasileiro. Em “O corpo inacessível: as mulheres e o ensino artístico nas academias do século XIX”, Ana Paula Simioni se debruça nessa perspectiva para trazer dados históricos e análises críticas sobre esse período artístico.
A história da arte acadêmica no Brasil tem sido tradicionalmente contada a partir de instituições, estilos e grandes nomes masculinos. Ana Paula Simioni aponta que “a história da arte ainda é, em muitos aspectos, a história da exclusão das mulheres de seus processos de legitimação simbólica” (Simioni, 2013, p. 31). Ao olhar para a arte acadêmica sob uma perspectiva de gênero, torna-se evidente o quanto as mulheres foram sistematicamente marginalizadas desse campo ao longo do século XIX e início do XX.
A formação do sistema acadêmico e a exclusão feminina
A consolidação da Academia Imperial de Belas Artes, fundada em 1826 no Rio de Janeiro, estabeleceu os pilares do ensino artístico no Brasil. A academia estabelecia parâmetros de excelência baseados em modelos europeus, principalmente franceses, e consolidava o artista como um profissional especializado, formado a partir de métodos e hierarquias rígidas. Essa institucionalização do fazer artístico também reforçava uma ideia de arte como território masculino, em que a figura do “grande mestre” era associada ao gênio criador, disciplinado e público. A participação feminina, por outro lado, era relegada ao espaço doméstico e ao aprendizado “decorativo”, desvinculado de ambições profissionais ou do reconhecimento institucional.
Inspirada no modelo francês, a academia definia um currículo rigoroso, no qual o desenho e o estudo do corpo humano, a partir do modelo nu, ocupavam papel central. Como relembra Simioni, “a formação acadêmica pressupunha a participação do artista em um sistema que valorizava o ensino formal, os salões oficiais e a legitimação estatal da produção artística” (p. 28).
Contudo, as mulheres foram impedidas de participar plenamente desse sistema. Durante décadas, a AIBA excluiu alunas do ensino regular. A entrada de mulheres só foi permitida em 1884, com Rosa Lima e ainda assim, em condições bastante restritivas. Como destaca a autora: “as mulheres não podiam frequentar aulas de nu, essenciais na formação do artista acadêmico. Isso impunha um limite técnico e simbólico fundamental à atuação feminina” (p. 34).
O mito da “artista amadora” e as tensões da profissionalização
Mesmo quando admitidas nas escolas de arte ou salões, muitas mulheres eram tratadas como “amadoras” ou “diletantes”, numa tentativa de manter o monopólio simbólico da genialidade e da legitimidade artística nas mãos dos homens. Esse discurso sustentava que o espaço da mulher era o do “bom gosto” e da sensibilidade decorativa, nunca da crítica, da inovação ou da técnica rigorosa.
Essa posição era sustentada por uma ideologia que separava arte de “gênero”, e associava a genialidade, a inovação e o domínio técnico à figura masculina. Simioni observa: “a artista era sempre a exceção, o artista, a regra” (p. 31).
A crítica de arte, os salões e a imprensa reforçavam essa visão, minimizando os feitos femininos e reafirmando uma divisão sexual do trabalho artístico. Ainda que algumas mulheres, como Abigail de Andrade, tenham conseguido projeção, sua presença era frequentemente lida como exótica ou limitada a gêneros “menores”, como a aquarela ou a pintura de flores e retratos íntimos.
No entanto, o final do século XIX e início do século XX marca um momento de inflexão, em que mulheres como Abigail de Andrade e, posteriormente, Tarsila do Amaral ou Anita Malfatti começaram a tensionar esses limites. Ainda assim, como destaca Simioni, é importante não confundir a emergência de algumas figuras com a real democratização do campo artístico. A presença feminina ainda era exceção, e não regra.
O espaço doméstico como limite e linguagem
Outro ponto fundamental da análise de Simioni está na relação entre mulheres artistas e o espaço doméstico. Ao serem impedidas de acessar o ateliê público e o ensino pleno, muitas mulheres criaram suas obras a partir de espaços domésticos, que passaram a ser não apenas cenário, mas também tema e linguagem.
Segundo a autora, essa ambiguidade revela uma “fronteira entre a profissionalização possível e os códigos da domesticidade que restringiam o espaço simbólico da mulher artista” (p. 37). Mesmo na produção contemporânea, essa herança da domesticidade pode ser observada como um campo de disputa e ressignificação artística.
Gênero, classe e racialização do campo artístico
A exclusão das mulheres da arte acadêmica não pode ser compreendida isoladamente. Ela se insere numa estrutura mais ampla, em que classe social e racialização também atuam como dispositivos de controle do acesso ao saber artístico. A academia era, antes de tudo, um espaço branco, elitista e masculino. Mulheres negras, por exemplo, estavam completamente ausentes desses espaços, fato que começa a ser revisto apenas muito recentemente, com pesquisas que propõem reconstituir outras genealogias e memórias da arte no Brasil.