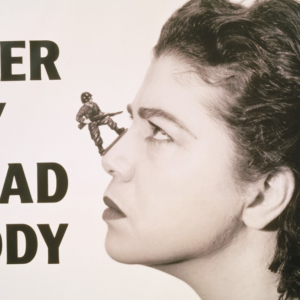O livro “Para onde vai a história?” é uma das contribuições mais contundentes da historiadora e teórica da arte Griselda Pollock para o debate contemporâneo sobre os rumos da história da arte e da própria escrita da história. Professora e pesquisadora reconhecida por seus estudos feministas, psicanalíticos e pós-coloniais, Pollock tem papel decisivo na reformulação do pensamento crítico desde os anos 1980, quando, ao lado de autoras como Linda Nochlin e Rozsika Parker, questionou o cânone moderno e as estruturas patriarcais que definiram o que (e quem) a história da arte escolheu ver, preservar e legitimar.
Em “Para onde vai a história?”, Pollock amplia esse questionamento, propondo uma reflexão profunda sobre o futuro do campo historiográfico. O livro parte da percepção de que a história, entendida como disciplina e como prática cultural, encontra-se em crise, uma crise que não é apenas teórica, mas também política e ética. Ao revisitar as heranças do modernismo, do colonialismo e do patriarcado, a autora examina como o conceito ocidental de “história” se constituiu a partir de exclusões sistemáticas, silenciando experiências e temporalidades não alinhadas à narrativa linear e universalizante do Ocidente.
A questão central que move o livro – “para onde vai a história?” – não busca prever um destino, mas abrir um campo de indeterminação e crítica. Pollock convida o leitor a repensar o papel da história diante das rupturas do século XX e XXI, marcadas por traumas, violências e deslocamentos. A autora propõe que a história, para seguir existindo, precisa abandonar o mito da objetividade e se reconhecer como uma prática de interpretação situada, sensível às vozes marginalizadas e aos modos alternativos de tempo e memória.
A importância da obra está na maneira como ela rearticula o campo da história da arte, inserindo-o em um horizonte mais amplo de debates sobre gênero, raça, trauma, alteridade e justiça epistêmica. Pollock propõe uma história da arte que não se limita à análise de estilos ou escolas, mas que se abre à escuta e reconhece a complexidade das subjetividades, as potências da imaginação e o papel político da memória.
Reconfiguração da história como disciplina
Em Para onde vai a história?, Griselda Pollock parte da constatação de que a história, tanto no campo da arte quanto nas humanidades em geral, atravessa uma crise de sentido e de método. Essa crise decorre da percepção de que os modelos de racionalidade e de objetividade herdados do positivismo e do historicismo não são neutros, mas construções ideológicas. A história, por muito tempo, sustentou-se na crença de que o passado poderia ser conhecido de maneira estável, bastando ao historiador reunir e ordenar os fatos em uma sequência coerente. Pollock, no entanto, mostra que essa visão linear e totalizante entrou em colapso diante das transformações epistemológicas do século XX, especialmente após a virada linguística e o impacto das teorias feministas, psicanalíticas e pós-coloniais.
A autora propõe, assim, uma reconfiguração radical da história como disciplina. A escrita da história não deve mais ser vista como espelho do real, mas como um processo de interpretação situada, atravessado por afetos, ideologias e posições de poder. O historiador, nesse novo paradigma, não é um observador distante, mas um sujeito que participa ativamente da construção de sentido. Pollock insiste que essa consciência não implica relativismo, mas responsabilidade: reconhecer-se implicado é o primeiro passo para praticar uma história ética, consciente de seus limites e de suas exclusões.
Essa reconfiguração abre espaço para uma história plural e porosa, que acolhe diferentes regimes de temporalidade e de memória. A autora argumenta que a disciplina precisa abandonar o mito da linearidade e aceitar que o passado é múltiplo, contraditório e inacabado. O que está em jogo, portanto, não é apenas uma mudança metodológica, mas uma transformação profunda no modo de pensar o tempo, o conhecimento e a própria subjetividade. Em lugar de uma história que pretende dominar o passado, Pollock propõe a escuta, reconhecendo a alteridade como condição do saber histórico.
A herança do historicismo
A autora tece uma crítica à herança do historicismo do século XIX, que moldou o pensamento histórico moderno e, por extensão, a história da arte. Para Pollock, o historicismo não foi apenas um método, mas uma forma de organizar o mundo segundo uma ideologia do progresso e da continuidade, na qual o tempo é concebido como uma linha ascendente em direção a um ideal de civilização. Esse modelo produziu narrativas coerentes e totalizantes, mas ao custo de excluir aquilo que não cabia nelas – culturas, corpos e práticas que não se alinhavam à lógica evolutiva europeia.
A autora mostra como essa visão do tempo (linear, teleológica e universalizante) sustentou o projeto eurocêntrico da modernidade. Ao posicionar a Europa como centro e medida de todos os desenvolvimentos culturais, o historicismo instituiu uma hierarquia entre sujeitos históricos, naturalizando as relações coloniais e patriarcais. No campo da arte, isso se traduziu na consolidação de um cânone masculino e ocidental, que marginalizou as produções de mulheres, artistas racializados e tradições não ocidentais.
Pollock desmonta essa estrutura mostrando que o tempo histórico não é homogêneo nem contínuo, mas feito de rupturas, sobrevivências e retornos. Em diálogo com pensadores como Walter Benjamin, ela defende uma concepção de história não linear, na qual o passado ressurge de modo fragmentário, por meio de lembranças, traumas e lacunas. Essa abordagem exige repensar a própria escrita da história, que deve tornar visíveis os silenciamentos e deslocar o olhar do centro para as margens, um gesto que é ao mesmo tempo teórico e político.
Pollock questiona o lugar de autoridade do historiador, cuja voz foi por séculos tomada como portadora da verdade. Em vez da autoridade, ela propõe a responsabilidade e a escuta como princípios éticos da prática historiográfica. A tarefa da história, em sua visão, é abrir o campo da memória para múltiplas vozes e temporalidades que insistem em sobreviver.
A virada linguística e o papel da narrativa
Pollock dedica uma parte significativa à análise das transformações teóricas ocorridas a partir da virada linguística, marco decisivo para o pensamento histórico e para as humanidades no século XX. Essa virada, influenciada por autores como Michel Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthes e Hayden White, deslocou a compreensão da história como relato factual para a ideia de que todo conhecimento histórico é, antes de tudo, uma construção discursiva. A história, portanto, não reflete a realidade de maneira direta: ela a produz por meio da linguagem.
Pollock demonstra que esse deslocamento provocou um abalo profundo no ideal positivista de objetividade. Se a linguagem é o meio pelo qual o passado se torna inteligível, então o historiador não é um transmissor neutro de fatos, mas um autor que organiza narrativas, escolhe vocabulários e define enquadramentos. A história deixa de ser o espelho do real e passa a ser uma prática textual e interpretativa, atravessada por ideologias, afetos e estruturas de poder.
Para Pollock, esse reconhecimento da dimensão narrativa não significa o abandono da verdade, mas a ampliação de sua complexidade. Ao entender a história como linguagem, torna-se possível questionar quem fala, de onde fala e a quem se dirige o discurso histórico. Essa consciência crítica revela como certas vozes foram silenciadas pela retórica da universalidade e como o cânone se construiu a partir de exclusões estruturais. A autora propõe, assim, uma escrita da história que seja capaz de incorporar o fragmento, o não-dito e o contraditório – elementos que as narrativas totalizantes tentaram apagar.
Ao mesmo tempo, Pollock recorre à arte e à literatura como campos que desafiam a rigidez da narrativa histórica. Nas obras de artistas e escritoras, a história aparece não como sequência lógica, mas como trama de lembranças, silêncios e sobrevivências. Essa aproximação entre estética e historiografia amplia o papel da imaginação como forma de conhecimento. O historiador, tal como o artista, cria relações, gestos e montagens: ambos trabalham com o que resta.
Tempo, memória e representação
Outro eixo fundamental do pensamento é a articulação entre tempo, memória e representação. A autora parte da percepção de que o modelo temporal que sustentou a historiografia moderna, já não dá conta da experiência contemporânea do tempo. Em contraste com essa lógica do contínuo, Pollock introduz uma concepção de temporalidade fragmentada, múltipla e afetiva, marcada por rupturas, sobrevivências e retornos.
Inspirada em Walter Benjamin, Sigmund Freud e nas teorias feministas da psicanálise, Pollock diferencia o tempo da história e o tempo da memória. O primeiro é o tempo racionalizado, organizado segundo causas e efeitos, utilizado pela disciplina histórica para construir coerência. O segundo, em contraste, é o tempo vivido, atravessado por emoções, traumas, esquecimentos e repetições. Enquanto a história busca fechar o passado em uma narrativa, a memória insiste em reabrir feridas, revelando o que ficou à margem ou foi reprimido.
Para Pollock, compreender essa diferença é essencial para pensar o papel das imagens e das representações na arte. Obras que evocam o trauma, a ausência ou o silêncio, como as de artistas mulheres e de contextos pós-coloniais, não ilustram o passado, mas o fazem retornar, questionando os limites do visível e do dizível. A representação, nesses casos, não é transparência, mas campo de disputa: aquilo que se mostra carrega o que não pôde ser mostrado.
Ela propõe uma história que escute as memórias e seus modos de aparecer uma história que se permita ser interrompida, contaminada e descentrada. O tempo da arte pode revelar dimensões que a cronologia histórica não alcança, pois nele atuam a repetição e o desejo, o inconsciente e a imaginação.
O historiador como mediador e intérprete
Em Para onde vai a história?, Griselda Pollock redefine o papel do historiador e, particularmente, do historiador da arte, como alguém que não transmite verdades sobre o passado, mas media e interpreta experiências temporais. A autora rompe com a imagem do historiador como figura neutra, objetiva e exterior aos eventos, revelando que toda prática historiográfica é atravessada por escolhas, enquadramentos e afetos. Narrar a história é, inevitavelmente, um ato de posicionamento.
Pollock enfatiza que o historiador precisa reconhecer a si mesmo como sujeito implicado. Isso significa assumir que a escrita da história é produzida a partir de um lugar social, político e simbólico: gênero, raça, classe e localização geográfica atravessam o olhar e definem o que é possível ver e nomear. Ao explicitar essas condições, o historiador deixa de buscar uma ilusão de universalidade e passa a praticar uma forma de escuta crítica, consciente de que o conhecimento é sempre situado.
Nesse sentido, o trabalho historiográfico se aproxima do gesto curatorial ou artístico: não se trata de recuperar o passado tal como “realmente foi”, mas de construir pontes de significação entre tempos e sujeitos. Pollock propõe pensar o historiador como mediador entre memórias coletivas e arquivos materiais, entre o visível e o indizível. Sua tarefa é lidar com os restos, com o que sobreviveu, mas também com o que foi silenciado.
Ao assumir essa postura interpretativa, o historiador torna-se responsável não apenas pelo que escreve, mas também pelo que escolhe não escrever. A autora enfatiza o caráter ético dessa mediação: toda história é um gesto de poder, e reconhecer isso é condição para praticar uma historiografia comprometida com a justiça epistêmica. A mediação, portanto, não é uma neutralização dos conflitos, mas um exercício de convivência entre diferenças, uma prática que transforma o historiador em participante ativo de um processo político e poético de reconstrução da memória.
Assim, propõe substituir a autoridade do historiador pela sua responsabilidade. Em lugar da voz que explica o passado, emerge a escuta que permite que outras vozes se inscrevam nele. O historiador deixa de ser o guardião de uma verdade e se torna um intérprete do tempo, capaz de revelar as zonas de sombra que sustentam o que chamamos de história.
A crise do tempo moderno
Um dos momentos mais potentes de Para onde vai a história? é quando Griselda Pollock analisa o colapso da noção moderna de tempo. A modernidade, diz ela, foi fundada sobre a crença no progresso contínuo, a ideia de que o futuro é um horizonte de aperfeiçoamento e que o presente avança em direção a esse destino. Esse imaginário temporal, herdado do Iluminismo e consolidado pelo historicismo do século XIX, organizou não apenas a narrativa da história, mas também a da arte: estilos sucedendo estilos, escolas superando escolas, cada uma mais “avançada” que a anterior.
Pollock mostra como essa linearidade se rompeu diante das catástrofes do século XX – guerras, genocídios, colapsos ecológicos e crises coloniais, que expuseram o lado destrutivo da modernidade. O futuro, outrora promessa, passou a ser vivido como ameaça. A aceleração tecnológica e a globalização intensificaram essa ruptura, produzindo o que a autora identifica como uma crise do tempo moderno: já não há um sentido unívoco de direção.
Essa crise não é apenas histórica, mas existencial. Ela desorganiza o modo como nos relacionamos com o passado e o porvir, instaurando um sentimento de suspensão. Pollock lê esse fenômeno não como sinal do fim da história, mas como oportunidade para repensar o tempo em sua multiplicidade. O desafio é construir uma historiografia que reconheça o entrelaçamento de tempos diferentes, o arcaico e o contemporâneo, o individual e o coletivo, o vivido e o lembrado.
A autora sugere que, em meio a essa crise, a arte oferece modos alternativos de experimentar o tempo. As obras contemporâneas, ao lidar com fragmentos, repetições e simultaneidades, revelam como o tempo deixou de ser uma linha e tornou-se um campo de intensidades. A arte, ao convocar a sensibilidade e a imaginação, permite vislumbrar uma temporalidade não subordinada à lógica do progresso.
Ao reconhecer a crise do tempo moderno, aceita que não há mais um futuro único nem uma história comum, mas uma pluralidade de futuros possíveis. Esse reconhecimento desloca o olhar da historiografia: em vez de buscar continuidade, ela deve acolher a descontinuidade; em vez de narrar o avanço, deve compreender as ruínas. A história é a prática viva de pensar o tempo em meio ao que ainda está por vir.
Globalização e multiplicidade das histórias
Em Para onde vai a história?, Griselda Pollock reconhece que as transformações políticas e culturais das últimas décadas exigem uma revisão profunda da própria ideia de “história universal”. Com a globalização (entendida não apenas como fenômeno econômico, mas como reconfiguração dos fluxos simbólicos e epistemológicos), torna-se impossível sustentar uma única narrativa sobre o tempo. O que emerge, em seu lugar, é uma constelação de histórias: múltiplas, simultâneas e interdependentes.
Pollock critica o modo como a história da arte e a historiografia ocidental, ao longo do século XX, mantiveram uma estrutura hierárquica, em que o Ocidente ocupava o centro produtor de sentido e as demais culturas eram reduzidas a periferias ou “influências”. Essa assimetria é resultado de um projeto colonial de conhecimento, que impôs não apenas fronteiras geográficas, mas também temporais ,definindo o que é moderno, o que é atraso e quem tem direito a representar a humanidade.
Contra essa tradição, a autora propõe uma história da arte transnacional, que não apague as diferenças em nome de uma globalização abstrata, mas que as reconheça como condição de diálogo. O desafio não é substituir o universal por uma nova narrativa total, mas pensar a história como rede de interações, trocas e deslocamentos. Pollock propõe que se fale em “histórias” no plural, cada uma enraizada em experiências específicas, mas abertas à contaminação e à coexistência.
Nessa perspectiva, a globalização não é apenas um problema, mas também um campo de possibilidade: ela torna visíveis as desigualdades estruturais que sustentam a circulação da arte e do conhecimento, e força a história a se repensar a partir de outros lugares. Pollock convoca a escuta de vozes femininas, indígenas, afro-diaspóricas e queer, que desestabilizam a narrativa hegemônica e introduzem temporalidades alternativas – ciclos, retornos, resistências em contraste com o tempo linear do progresso moderno.
A multiplicidade das histórias, portanto, não dissolve o sentido da disciplina, mas a renova. Para Pollock, uma história verdadeiramente contemporânea é aquela capaz de habitar o entre-lugares: um campo crítico que acolhe as diferenças sem hierarquizá-las, e que entende o passado como território em disputa, onde memórias locais e globais se cruzam.
História, arte e imaginação
Ao longo de sua obra, Griselda Pollock tem insistido que a arte não é apenas objeto da história, mas parceira de pensamento. Em Para onde vai a história?, essa convicção se torna central. A autora aproxima a prática historiográfica da prática artística para mostrar que ambas partilham o mesmo gesto fundamental: o de dar forma à experiência do tempo. Se a história busca compreender o passado, e a arte o reinscreve sensivelmente no presente, ambas operam como modos de imaginar o mundo e de reconstruir aquilo que foi perdido, esquecido ou silenciado.
Pollock recusa a separação entre razão e imaginação, tão cara à tradição ocidental. Ela argumenta que o pensamento histórico precisa da imaginação para lidar com o que os arquivos não contêm, para narrar o invisível, o reprimido e o não dito. Nesse sentido, a arte oferece à história um espaço de experimentação: suas linguagens visuais e poéticas tornam possível representar o irrepresentável, articulando o trauma, o afeto e o inconsciente como dimensões legítimas do saber histórico.
A autora cita artistas que trabalham com arquivo, ausência e memória como exemplos de um pensamento histórico em ato. Nessas obras, o passado não aparece como reconstrução literal, mas como presença espectral, que habita o presente de modo inquieto. Pollock vê na arte contemporânea um campo privilegiado para repensar o tempo, como movimento de retorno e sobrevivência.
Ao se aproximar da arte, a história se abre àquilo que excede o discurso racional. O trabalho do historiador, assim como o do artista, passa a envolver o gesto da montagem: recompor fragmentos, criar relações entre materiais heterogêneos, dar forma à descontinuidade. Essa dimensão criativa não é oposta à verdade, mas é o que permite falar com ética sobre o passado, reconhecendo suas lacunas e seus fantasmas.
Para Pollock, a imaginação é uma forma de responsabilidade. Imaginar é fazer ver o que foi apagado; é projetar futuros possíveis a partir de restos. A história, quando dialoga com a arte, deixa de ser mero registro e se transforma em prática de invenção de sentido, capaz de conjugar razão e sensibilidade, análise e emoção. É nesse entrelaçamento que reside, segundo a autora, a potência política e transformadora da arte e também o futuro da própria história.
A escrita da história como ato político
Em Para onde vai a história?, Griselda Pollock afirma que escrever história é sempre um ato político. Essa afirmação não diz respeito apenas à escolha dos temas ou aos posicionamentos ideológicos explícitos, mas à própria estrutura da narrativa histórica, ao modo como se organiza o tempo, ao que se decide incluir ou excluir, às vozes que se autorizam a falar. A história, diz Pollock, nunca é neutra: ela é um campo de disputa simbólica onde se definem pertencimentos, legitimidades e silenciamentos.
Ao analisar os mecanismos de poder que moldaram a historiografia ocidental, a autora demonstra como o discurso histórico serviu, ao longo dos séculos, para reafirmar hierarquias – de gênero, raça, classe e território. O cânone artístico, por exemplo, foi construído como uma estrutura de exclusão: ao definir quem poderia ser considerado “gênio”, a história da arte excluiu sistematicamente mulheres, artistas racializados e práticas não europeias. Narrar o passado, portanto, é intervir na política do presente, pois toda história organiza um regime de visibilidade e invisibilidade.
Pollock propõe, então, uma escrita da história orientada por uma ética da responsabilidade. Isso significa reconhecer que o historiador participa de uma rede de relações e que sua voz tem consequências materiais e simbólicas. A escrita, nesse sentido, deve ser um espaço de escuta, um lugar onde múltiplas perspectivas possam coexistir e tensionar-se mutuamente.
A autora também destaca a importância de pensar a linguagem da história como forma de poder. As categorias analíticas e os modos de periodização não são neutros: eles expressam escolhas que refletem contextos culturais específicos. Pollock defende que o historiador precisa tornar visíveis essas operações, praticando uma escrita autocrítica e autorreflexiva, que revele seus próprios enquadramentos.
Ao tratar a escrita da história como ato político, Pollock amplia o papel do historiador da arte: ele deixa de ser guardião da memória institucional para tornar-se agente de transformação. Cada narrativa é uma oportunidade de reimaginar o passado e, ao fazê-lo, de projetar futuros mais plurais. O texto histórico, assim, torna-se lugar de resistência e um modo de desafiar os discursos dominantes e de afirmar que a história é um território vivo, em constante reescrita.
Para onde vai a história?
A questão que dá título ao livro“para onde vai a história?” não é uma pergunta sobre destino ou direção, mas uma provocação sobre o sentido e a finalidade da própria disciplina. Diante das crises do tempo moderno, do colapso das grandes narrativas e das transformações políticas e epistemológicas das últimas décadas, Pollock sugere que a história não caminha mais para um ponto de chegada. Ela se espalha, se fragmenta, se reconfigura em múltiplas práticas e linguagens.
O futuro da história, para a autora, depende da sua capacidade de se abrir à alteridade. Em vez de buscar totalidade ou coerência, a história deve aceitar sua condição de incerteza, tornando-se um campo de convivência entre diferentes tempos, corpos e experiências. Isso exige, segundo Pollock, uma reorientação ética e metodológica: uma história comprometida com a escuta dos excluídos, com a reparação das memórias feridas e com o reconhecimento da pluralidade das formas de saber.
A autora propõe pensar a história como processo relacional, e não como sistema fechado. Ela acontece nos encontros entre sujeitos e temporalidades, nas zonas de fricção entre lembrança e esquecimento, entre visível e invisível. Essa visão rompe com o paradigma moderno de tempo linear e propõe uma historiografia “em movimento”, que se refaz constantemente a partir das perguntas do presente.
Pollock termina o livro afirmando que, se a história ainda tem um papel a cumprir, ele não é o de conservar certezas, mas o de produzir sentido em meio ao caos. Em um mundo marcado por fragmentação, desigualdade e aceleração, a história – e particularmente a história da arte – precisa oferecer um espaço para o pensamento crítico, para a imaginação e para o diálogo.
A pergunta “para onde vai a história?” é, portanto, uma pergunta que se dirige também a nós, leitores e produtores de sentido. A resposta, sugere Pollock, não está em um novo modelo teórico ou em uma metodologia definitiva, mas em uma prática contínua de atenção e escuta. A história vai para onde formos capazes de levá-la para onde abrirmos espaço para outras vozes, outras memórias e outras possibilidades de existência.