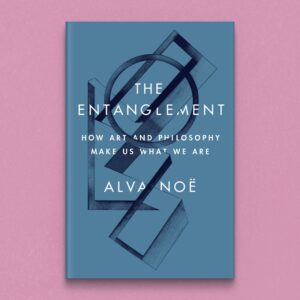Publicado originalmente em 1971, o livro Como se escreve a história, de Paul Veyne, continua sendo um marco nos debates sobre teoria da história. Com linguagem direta e uma abordagem crítica, o historiador francês nos convida a olhar para a escrita da história não como um reflexo fiel do passado, mas como uma construção narrativa, permeada por escolhas, ideologias e interpretações. Veyne, que foi colega de Michel Foucault no Collège de France, não esconde sua filiação a um pensamento que desafia as pretensões científicas da historiografia moderna.
A primeira provocação de Veyne é contundente: a história não é ciência. Não há método científico no trabalho do historiador que se compare ao da física ou da biologia. O que os historiadores realmente fazem, afirma o autor, é narrar acontecimentos, construir histórias verdadeiras sobre o passado, mas sempre sob a forma de narrativa. Isso significa que a história é mais próxima da literatura do que das ciências naturais. Como todo contador de histórias, o historiador escolhe onde começar, o que enfatizar, o que silenciar e como organizar os episódios.
Organizamos dez pontos do livro que consideramos fundamentais para pensar a função do historiador da arte e que esbarra, em muitos pontos, coma atuação do curador.
1. A história como narração e não como ciência
Veyne argumenta que a história é antes uma forma de narração do que uma ciência objetiva. Os historiadores escolhem quais fatos narrar e como narrá-los, e essa escolha depende de valores culturais, sociais e ideológicos. Não há neutralidade: toda história é, no fundo, uma construção com intenções, pontos de vista e formas específicas de organizar o tempo e os acontecimentos.
2. A diferença entre acontecimento e estrutura
O autor distingue entre o acontecimento (o que ocorre pontualmente) e a estrutura (as permanências de longa duração). A história tradicional dava mais valor aos acontecimentos, enquanto escolas como os Annales propuseram dar atenção às estruturas. Veyne reconhece a importância das duas dimensões, mas propõe que nenhuma tem supremacia absoluta — ambas dependem da escolha narrativa do historiador.
3. A subjetividade do historiador
Para Veyne, o historiador nunca é neutro ou apenas um “retratista do passado”. Ele parte de uma visão de mundo, de um repertório cultural e ideológico, que molda a escolha dos temas, das fontes e das interpretações. O trabalho do historiador, portanto, é interpretativo, criativo e situado, e não uma reconstituição imparcial dos “fatos como foram”.
4. O papel da ideologia na escrita da história
O autor enfatiza como a ideologia — entendida não apenas como política, mas como todo um sistema de crenças — molda a história. Não apenas a história escrita sobre o passado, mas até mesmo a forma como se vê o tempo histórico depende de ideologias predominantes em determinado período. O historiador, mesmo involuntariamente, escreve dentro de uma moldura ideológica.
5. História e verdade: não há fatos em si
Um ponto central do livro é a crítica à ideia de que existem “fatos históricos” objetivos, que falariam por si. Para Veyne, os fatos ganham existência histórica apenas dentro de um relato que os contextualiza e lhes dá sentido. Um mesmo fato pode ser interpretado de diversas maneiras, e isso mostra que a verdade histórica é sempre parcial, provisória e discursiva.
6. A história como mistura de literatura, retórica e saber
Veyne aproxima a história da literatura: ambas operam por seleção, montagem e sentido. O historiador, como o romancista, cria uma trama, uma estrutura narrativa que une episódios. O saber histórico se constrói tanto por provas e fontes quanto por estilo e persuasão retórica. A história, portanto, tem uma dimensão estética e argumentativa.
7. A influência de Foucault
O último ensaio do livro discute como Michel Foucault “revoluciona a história”. Para Veyne, Foucault rompe com as ideias de continuidade, progresso e causalidade linear. Ao introduzir a noção de “dispositivo” e de “episteme”, Foucault mostra que as práticas, os saberes e as instituições variam radicalmente conforme os contextos históricos. Veyne vê nisso uma libertação para os historiadores: podem abandonar as grandes totalizações e olhar para os sistemas de enunciação e de poder.
8. A crítica ao modelo científico da história
Veyne ironiza a ideia de uma “ciência histórica” com leis e regularidades como as da física. Para ele, a história se parece mais com as artes humanas, pois é um conhecimento situado, interpretativo e dependente de contexto. A pretensão científica da história seria ilusória, pois não há previsibilidade nem universalidade nas ações humanas do passado.
9. A relação entre história e memória
O livro também sugere que a história concorre com outras formas de construção do passado, como a memória coletiva. A memória é seletiva, afetiva, muitas vezes mítica. A história tenta, por vezes, corrigi-la, mas também é moldada por disputas de memória. Veyne mostra que a história oficial e a memória social muitas vezes se confundem ou se tensionam.
A história tenta ser crítica, baseada em provas e análises. Mas nem por isso deixa de ser também seletiva. Muitas vezes, o que chamamos de história oficial é apenas uma memória legitimada pelo poder.
10. A pluralidade da história
Por fim, Veyne defende a ideia de que não existe uma única história verdadeira, mas várias histórias possíveis, dependendo da questão que se formula, do olhar que se lança e da posição do narrador. Isso não significa relativismo puro, mas o reconhecimento da complexidade do real e da historicidade do próprio saber histórico.
Extra: Não existe uma única história
Não há uma História com H maiúsculo. Existem histórias, no plural. Cada uma responde a perguntas diferentes, parte de documentos diversos e reflete um ponto de vista específico. A multiplicidade não é um defeito, mas uma riqueza. A história, para Veyne, é como uma colcha de retalhos: nunca se fecha, nunca se completa, sempre pode ser recontada.